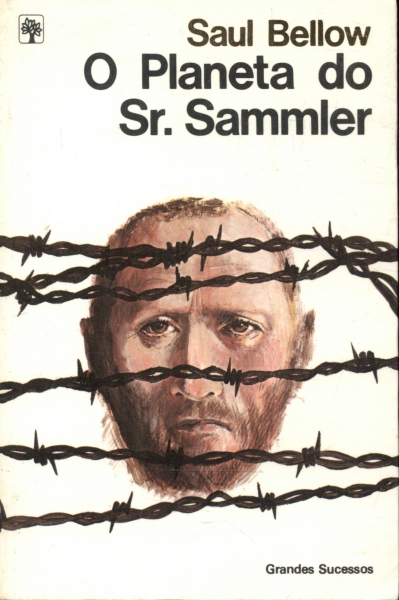Apertem os cintos: estamos entrando na era da pós-verdade
Por Carlos Castilho, do Observatório da Imprensa, em 28/09/2016 na edição 921
Pós verdade parece mais uma expressão de impacto para chamar a atenção de um público saturado de informações e inclinado para a alienação noticiosa. Mas o fato é que estamos diante de um fenômeno que já começou a mudar nossos comportamentos e valores em relação aos conceitos tradicionais de verdade, mentira, honestidade e desonestidade , credibilidade e dúvida.
As evidências desta nova era estão nas manchetes de jornais, em declarações como as do candidato republicano Donald Trump ou nas dos procuradores e acusados na Lava Jato. Se antes havia verdade e mentira, agora temos verdade, meias verdades, mentira e afirmações que podem ser verdadeiras, conforme afirma o escritor norte-americano Ralph Keyes, o autor do livro The Post Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life (St. Martin’s Press, 2004. ISBN 978-0-312-30648-9).
Quando Trump afirmou num discurso que o presidente Barack Obama foi um dos fundadores do Estado Islâmico, até os ultraconservadores norte-americanos acharam que ela estava exagerando. Mas o candidato republicano não se abalou, nem mesmo na televisão, quando explicou que Obama permitiu o surgimento do grupo radical islâmico porque este cresceu no vácuo politico deixado no Iraque pelo que Trump classificou de fracassos da diplomacia do presidente norte-americano. A polêmica criada em torno da afirmação gerou a percepção de que ela poderia ser verdadeira. Foi o suficiente para que Trump saísse ileso da discussão.
Os conservadores transformaram a insegurança pública num dos seus carros chefes na campanha pela implantação da doutrina do medo social, como forma de domesticar a população. Mas eles negam a evidência estatística de que na maioria dos grandes centros urbanos do planeta a incidência de crimes diminuiu em relação ao número de habitantes. A explicação para a discrepância entre a sensação de insegurança e as estatísticas criminais é complexa e exige uma boa dose de esforço e isenção. É mais fácil partir para aquilo que uma parte do publico quer ouvir.
A “cognição preguiçosa”
É um caso típico de aplicação da teoria da “cognição preguiçosa”, criada pelo psicólogo e prêmio Nobel Daniel Kahneman, para quem as pessoas tendem a ignorar fatos, dados e eventos que obriguem o cérebro a um esforço adicional.
Aqui no Brasil, a pós verdade é nítida no caso das investigações da Lava Jato. Separar o joio do trigo no emaranhado de versões e contra versões produzidas pelas delações premiadas é bem complicado. Há poucas dúvidas sobre a existência de esquemas de propinas, caixa dois eleitoral, superfaturamento, formação de cartéis e enriquecimento de suspeitos, mas provar cada um deles com base em evidências é uma operação complexa e demorada. Em alguns casos até inviável dada a sofisticação dos esquemas adotados pelos suspeitos de corrupção.
Mas como existe o interesse político envolvendo a questão e como existe a “cognição preguiçosa”, as convicções passam a ocupar o espaço das evidências e provas. A dicotomia jurídica clássica entre o legal e o ilegal passa a ser substituída por justificativas tipo “domínio do fato”, ou seja, convicções construídas a partir da repetição massiva de percepções individuais ou corporativas, pelos meios de comunicação.
Segundo a revista The Economist, o mundo contemporâneo está substituindo os fatos por indícios, percepções por convicções, distorções por vieses. Estamos saindo da dicotomia tradicional entre certo ou errado, bom ou mau, justo ou injusto, fatos ou versões, verdade ou mentira para ingressarmos numa era de avaliações fluidas, terminologias vagas ou juízos baseados mais em sensações do que em evidências. A verossimilhança ganhou mais peso que a comprovação.
A pós verdade, um termo já incorporado ao vocabulário da mídia mundial, é parte de um processo inédito provocado essencialmente pela avalancha de informações gerada pelas novas tecnologias de informação e comunicação (TICs). Com tanta informação ao nosso redor é inevitável que surjam dezenas e até centenas de versões sobre um mesmo fato. A consequência também inevitável foi a relativização dos conceitos e sentenças.
Mas o que parecia ser um fenômeno positivo, ao eliminar os absurdos da dicotomia clássica num mundo cada vez mais complexo e diverso, acabou gerando uma face obscura na mesma moeda. Os especialistas em informação enviesada ou distorcida (spin doctors no jargão norte-americano), aproveitaram-se das incertezas e inseguranças provocadas pela quebra dos paradigmas dicotômicos para criar a pós verdade, ou seja, uma pseudo-verdade apoiada em indícios e convicções já que os fatos tornaram-se demasiado complexos.
A herança de Goebbels
Diante das dificuldades crescentes para materializar a verdade por conta da avalanche informativa, especialmente na politica e na econômica, criaram-se as pós verdades, ou factoides (no jargão brasileiro), onde a repetição e a insistência passam a ocupar o espaço das evidências.
Na era da pós verdade, as versões ganharam mais importância do que os fatos, o que não é bom e nem mau. É simplesmente uma realidade. O que chamamos de fatos, na verdade são representações de um fato, dado ou evento desenvolvidas pela mente de cada indivíduo.
Assim, teoricamente, podemos ter um número de representações de um mesmo fato igual ao número de seres humanos no planeta Terra. E como as TICs permitem a disseminação massiva destas representações ou percepções, fica fácil intuir a complexidade da avaliação de fatos, dados ou eventos. “Uma mentira repetida mil vezes vira verdade”, a controvertida máxima cunhada pelo chefe da propaganda nazista, Joseph Goebbels, tornou-se preocupantemente atual.
Os meios de comunicação, principalmente a imprensa, ganharam um papel protagônico no fenômeno da pós-verdade porque a circulação de mensagens passou a ser o principal mecanismo de produção de novos conhecimentos numa economia digital movida a inovação permanente. A relevância conquistada pelos meios de comunicação os transformou em agentes fundamentais no processo que prioriza uma forma de descrever a realidade. Quando a imprensa norte-americana endossou a tese da existência de armas de destruição maciça no Iraque de Saddam Hussein, ela deixou de lado a verificação dos fatos e foi decisiva na transformação de uma possibilidade em certeza acima de suspeitas.
Teoricamente a pós verdade pode ser usada tanto pela esquerda como pela direita no terreno politico, mas como a imprensa joga um papel fundamental no processo, os rumos obviamente serão determinados pela ação de jornais, revistas, meios audiovisuais e pelas redes sociais. A imprensa portanto, não é uma observadora mas uma protagonista do processo de transformação de mentiras ou meias verdades em fatos socialmente aceitos.
A pós verdade e o jornalismo
A pós verdade é apenas um dos itens da era digital que estão abalando nossas crenças e valores. Nós jornalistas e toda a sociedade estamos vivendo um momento de insegurança e incertezas porque estamos passando de um contexto social para outro. Esta insegurança não é um fenômeno inédito na humanidade porque já aconteceu antes quando grandes inovações tecnológicas alteraram radicalmente o contexto social da época. Basta ver o que ocorreu após a invenção da pólvora, dos tipos móveis por Gutemberg, da máquina a vapor e dos processos de produção industrial.
Um dos grandes, talvez o maior de todos, dilemas enfrentados pela sociedade atual, é a necessidade de conviver com a complexidade do mundo contemporâneo. Tomemos o caso da polêmica científica sobre o meio ambiente. É um tema complexo onde o bombardeio informativo confunde as pessoas comuns com afirmações contraditórias entre cientistas e pesquisadores. Do ponto de vista dos cientistas é natural que existam posicionamentos distintos mas para o público, acostumado pela imprensa a esperar verdades absolutas, as contradições e divergências geram incertezas, que acabam conduzindo ao descrédito generalizado.
A pós verdade coloca para nós jornalistas o desafio da repensar a credibilidade e os parâmetros profissionais para avaliar dados, fatos e eventos. Não é uma casualidade o fato da credibilidade da imprensa, em países como os Estados Unidos, estar hoje num dos pontos mais baixos de sua história. O leitor está cada vez mais confuso e desconfiado em relação à imprensa. É uma resistência intuitiva ao fenômeno da complexidade informativa gerada pela internet.
A pós verdade é talvez o maior desafio para o jornalismo contemporâneo porque ela afeta a relação de credibilidade entre nós e o público. A nossa atividade está baseada na confiança das pessoas de que o que publicamos é verdadeiro. Quando uma nova conjuntura informativa interfere nesta confiabilidade, temos serias razões para nos preocupar, e muito, sobre o futuro da profissão.