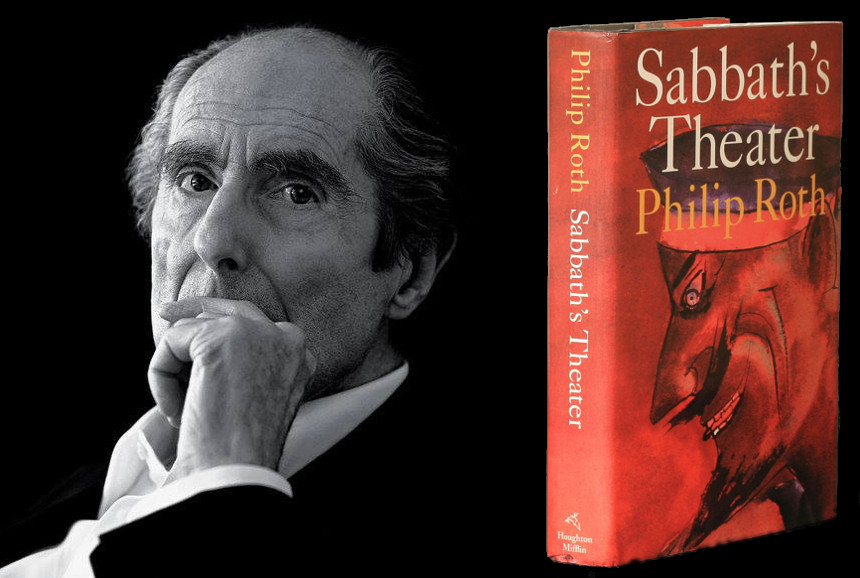Desde o ano passado, evidências preocupantes já alertavam: o Leitor Bagunçado está ficando organizado demais. O apelido sapecado a título de me absolver desta mania feia de ler livros sem direção – ao mesmo tempo em que me conferia certo verniz livre-pensador – faz cada vez menos sentido.
Tá difícil manter a (má) fama. A tradicional lista de livros lidos ao longo do ano é o bastante para, ano após ano, dinamitar aquela reputação durante construída.
O que fazer? Render-se às evidências, publicar a lista de 2016 – como sempre, com algum atraso – e, apesar dos pesares, manter o apelido nem que seja a título de chacota. Uma a mais não fará diferença.
Pior seria mudar pra Leitor Organizado que, além de soar mal, sugere um ordenamento meio cacete que a esta altura dos fatos só cai bem em gente tipo Michel Temer – toc, toc, toc.
Dito isso, vamos a parcas observações sobre a lista de 2016, que começou com muito bem com “Um beijo e tchau” do desorganizado-mor (amém) Alex Nascimento e terminou, agorinha mesmo (ufa) com o primeiro livro da série Wild Cards, escrita por um punhado de feras das narrativas fantásticas que só não se torna uma bagunça literária porque tem um editor-geral, George R.R. Martin.
Pois são justamente as séries de livros, essa mania que parece ter surgido ao mesmo tempo em que as séries de TV (ilusão, talvez, já que basta fuçar um pouco pra descobrir que ambas são bem antigas), que estão fazendo do Leitor Bagunçado um cara muito mais organizadinho. E 2016 foi o ano das séries, trilogias e quejandos.
Os três livros do “Millenium” de Stieg Larsson me jogaram sem dó nem piedade nesse mundo de narrativas que atravessam livros como delinquente que foge da polícia atropelando o trânsito. Não cheguei a ler o quarto livro da série, escrito por um amigo de Larsson após a morte deste. Mas tracei uma tetralogia, esta bem mais “lenta” do que as aventuras despirocadas de Lisbeth Salander: a série clássica de Yukio Missima, aberta com “Neve de Primavera” e encerrada com “A Queda do Anjo”. Margherite Duras adorou. Eu, que gosto da francesa desde 1985, não gostei muito. Subjetividade demais até pra alguém bem pouco objetivo como este Leitor Bagunçado. Mas fui até o fim, mantendo o hábito de nunca abandonar um livro pelo meio – eles não merecem, por piores que sejam.
Nem está na lista, mas pra me comunicar melhor com o mundo do meu filho Bernardo, de 9 anos, reli o primeiro Harry Potter – e gostei bem mais do que quando o fiz pela primeira vez, numa época ainda sem sombra de filhos. Devo continuar. Pra aprimorar pelo menos o inglês de leitura, também entrei na onda Bernardo e li os dois primeiros livros da série Percy Jackson, em que Rick Riordan tem a brilhante ideia de juntar o mundo adolescente pós-ipad e a mitologia grega.
Nessa seara ainda meio adolescente, um romance juvenil com uma premissa ímpar: um garoto/garota que todos os dias acorda no corpo de alguém de sua idade, vivendo seus 17 anos em situações tão semelhantes (porque marcadas pela embalagem da mesma geração) quando diferentes (porque os dramas de cada um são os mais diversos). "Every Day" é mesmo muito original, e no meu caso mais ainda por ter sido a primeira floresta de letras em inglês que enfrentei munido de dicionário on line pelo menos até a primeira metade – depois disso, o vocabulário se calcifica e a gramática faz de tudo uma fruição só.
Teve poesia – e das boas. Tinha que vir da lavra feminina, muito bem representada pela minha amiga Jeanne Araújo, potiguar e seridoense como eu, cuja poesia conheci bem cedo e já farejando o tanto que poderia render. E como rendeu, em “Corpo Vadio” e “Monte de Vênus”, livros em que Jeanne usa a sensualidade como espada em fogo para abrir sua clareira particular nos canaviais cerrados da boa poesia. Jeanne incendeia propositadamente as próprias carnes de papel para extrair do que escreve uma pureza quase intocável. Parece Hilda Hilst, uma de suas predileções, mas é outra coisa, de uma natureza muito mais telúrica do que sexual. Quando nada porque seus versos parecem surgir no papel depois de socados num pilão mitológico instalado na dureza resistente da paisagem seridoense. A geografia em torno molda uma poesia, sabemos. E a outra poeta que acompanha Jeanne na minha lista confirma isso: foi um apanhado da poesia feita por Elizabeth Bishop quando de suas temporadas no Brasil (em tradução de Paulo Henriques Britto).
Em 2016, aqui graças à Biblioteca da Câmara dos Deputados (esse tesouro onde não canso de descobrir pepitas literárias, mesmo as mais conhecidas), finalmente li Saul Bellow, assim como retornei a Paul Auster.
Do acervo pessoal, recuperei um Eduardo Gianetti da Fonseca que muito me consolou (via conhecimento, o que nunca é alienante mesmo sendo analgésico) diante da situação brasileira que só se agravou ao longo do ano. Era um velho livro que sempre foi um dos preferidos de Rejane – e que sempre esnobei, admito. Estava enganado – e como feliz penitência já estou com o novo livro de Gianetti (Trópicos Utópicos, lançado ano passado) pra incluir na lista de 2017.
Uma descoberta: o português Valter Hugo Mãe, que, embora a comparação soe redutora, pareceu-me uma feliz mistura de Saramago com Guimarães Rosa. Uma recuperação: “A Viagem de Theo”, compêndio narrativo que passa pelas religiões de todo o mundo e de que muito havia ouvido falar anos atrás. Uma decepção: “O Escaravelho do Diabo”. Não era pra tanto mas, admito, posso ter lido com 40 anos de atraso. Uma atualização: “Cleo e Daniel”, também lido muito depois da época em que marcou corações e cabeças; também sem muito impacto, o que certamente se explica pela extemporaneidade. Mas, enfim, grandes livros devem sobreviver ao painel histórico e cultural em que foram lançados, não?
Segue a lista:
· WILD CARDS LIVRO 1 / O COMEÇO DE TUDO - Editado por George R. R. Martin
· AS ILHAS DA CORRENTE - Esnest Hemingway
· ADEUS, HEMINGWAY - Leonardo Padura
· O FILHO DE MIL HOMENS - Valter Hugo Mãe
· CLEO E DANIEL - Roberto Freire
· CIDADEZINHAS - John Updike
· DEFIZ 75 ANOS - Rubem Alves
· MILLENIUM 3 - A RAINHA DO CASTELO DE AR - Stieg Larsson
· PERCY JACKSON - THE LIGHTNING THIEF - Rick Riordan
· A NOITE DO MEU BEM - Ruy Castro
· COELHO CORRE - John Updike
· MILLENIUM 2 - A MENINA QUE BRINCAVA COM FOGO - Stieg Larsson
· RIMBAUD - Jean-Baptiste Baronian
· VÍCIOS PÚBLICOS, BENEFÍCIOS PRIVADOS? - Eduardo Gianetti da Fonseca
· CORPO VADIO - Jeanne Araújo
· MONTE DE VÊNUS - Jeanne Araújo
· MILLENIUM 1 - OS HOMENS QUE NÃO AMAVAM AS MULHERES - Stieg Larsson
· PERCY JACKSON / THE SEA OF MONSTERS - Rick Riordan
· POEMAS DO BRASIL - Elizabeth Bishop (trad: P.H. Bitto)
· O PLANETA DO SR. SAMMLER - Saul Bellow
· LEVIATÃ - Paul Auster
· EVERY DAY - David Levithan
· O ESCARAVELHO DO DIABO - Lúcia Machado de Almeida
· A QUEDA DO ANJO - Yukio Mishima
· O TEMPLO DA AURORA - Yukio Mishima
· CAVALO SELVAGEM - Yukio Mishima
· NEVE DE PRIMAVERA - Yukio Mishima
· OS ÚLTIMOS DIAS DOS NOSSOS PAIS - Joël Dicker
· AS DUNAS VERMELHAS - Nei Leandro de Castro
· A VIAGEM DE THÉO - Catherine Clément
· CARLA LESCAUT - Cefas Carvalho
· AS PEQUENAS HISTÓRIAS - Osair Vasconcelos
· UM BEIJO E TCHAU - Alex Nascimento